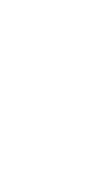Tudo que sabemos sobre a psique é ainda pouco perto do que ela possivelmente é. Jung não cansava de afirmar isso em seus escritos. É muito popular uma fala sua que dizia da importância de conhecer as teorias, estudar, saber todo o possível sobre os fenômenos psíquicos, mas que, frente a uma pessoa, temos de ser apenas outra pessoa.
Possivelmente ele se referia à importância do encontro analítico, base de sua proposta de que a análise não se dá apesar da transferência, mas na transferência, e isso traz para a abordagem junguiana uma particularidade que merece toda a nossa atenção: a importância da vida vivida pelo analista e a sua integridade.
Que a psicologia analítica requer um certo grau de erudição e um enorme empenho em estudos diversos, como Mitologia, Alquimia, Literatura, não é novidade para os que se aventuram pelo pensamento de Jung e acompanham seu longo bordar de referências em busca de encontrar um caminho, traçar um mapa para sempre impreciso da alma, já que mapa propriamente dito não há. Jung, com sua obstinação e paixão pelo empirismo, que ele exerceu por meio do olhar atento e da escuta de seus pacientes, saía desses encontros e se punha a construir castelos de areia que se mantivessem em pé no fundo do mar.
Por isso seu conselho de estudar tudo que pudesse ajudar a levantar esses castelos, ainda que ele os soubesse efêmeros em relação à vida que estava sempre em movimento, e ao próprio caminhar do desenvolvimento da consciência humana no planeta. Mas, afinal, o quanto dura a vida de uma pessoa frente à eternidade para que possamos pretender fugir do destino humano da efemeridade? Ao menos, da efemeridade da consciência individual?
Talvez por isso, por sua capacidade de descobrir padrões que se repetiam, e, como diria Gregory Bateson (1979), “padrões que unem”, a importância que deu em seus últimos escritos às questões arquetípicas.
Toda a Psicologia Analítica, ao mesmo tempo em que ressalta a importância da consciência individual, para a qual está pensado o processo de individuação, não deixa de evidenciar o que há de humano propriamente dito em todos nós.
É com essa consciência de que nada que é humano me é estranho, como disse Fernando Pessoa, que temos de adentrar o encontro analítico. E, nesse momento, é preciso despir todos os títulos, todas as referências eruditas e adentrar no território da empatia.
Como um tipo intuitivo superior, Jung sabia da importância da intuição para o analista, mas nem por isso deixou jamais de ressaltar que mesmo a intuição precisa de repertório cognitivo e vivencial para operar no desafio da análise dos sonhos, da escuta qualificada das narrativas que nos chegam, dos sintomas.
Posto isso, quero ressaltar aqui a importância da vida vivida por Jung (SILVEIRA, 1981), de suas viagens, suas relações profissionais e pessoais, seus envolvimentos afetivos, sua vida familiar, as longas conversas interiores com o mundo imaginal. Jung foi preciso ao compreender que é preciso viver a própria vida ao limite para sermos bons analistas.
Nada me parece mais nefasto a um analista do que a normose de uma vida sem cor e a proteção por detrás da persona profissional, casamento de duas coisas que ao mesmo tempo que podem levar o analista a vicariar a vida de seus pacientes – ainda que por detrás de um aparente desvelo -, como bem alerta Guggenbühl-Craig (2004), também podem levá-lo a uma absoluta incapacidade de empatia no encontro analítico.
Mas o que é, afinal, a empatia?
O senso comum responderia: colocar-se no lugar do outro. No entanto, sabemos que colocar-se no lugar do outro literalmente é impossível, nossa condição espaço-temporal nos impede sempre de sairmos de nossa pele, ainda que ela seja bem elástica.
Será preciso compreender como a empatia ocorre para compreendermos sua importância para o encontro analítico, e eu começaria por compreendermos que a empatia é um gesto do corpo.
Confundida com compaixão e solidariedade, a empatia é de fato muito anterior a elas e é apresentada pelo etólogo Frans de Waal (2010) a partir do que se designa como “problema da correspondência” e que ele apresenta como uma operação de sincronia, de ação coordenada, com maior ou menor complexidade, e que teria base na capacidade de mapear o próprio corpo, o corpo do outro, e incorporar seus movimentos, o que em humanos, primatas, teria início já em recém-nascidos.
Essa correspondência trata do que conhecemos por mimese, que, mais do que mera imitação, foi apresentada por Wulf e Gebauer (2004) como um processo de autorregulação de um grupo social, fundamental para a criação de vínculos e de sentimento de pertencimento.
Sobre isso, Waal vai propor que:
“A imitação necessita da identificação com um corpo de carne e osso. Estamos começando a compreender o quanto a cognição, humana e animal, depende do corpo. O nosso cérebro não é um pequeno computador que dirige o corpo à sua volta. A relação entre o corpo e o cérebro é uma via de mão dupla. O corpo produz sensações internas e se comunica com outros corpos, e é com base nisso que conseguimos construir conexões sociais e avaliar a realidade à nossa volta. O corpo intervém em tudo o que percebemos ou pensamos” (WAAL, 2010, p.90).
Jung certamente já tinha isso também bem claro quando parte da importância do papel das emoções para a formulação da noção de complexo, o que fica especialmente colocado nos primeiros volumes de sua obra completa. O sentido etimológico da palavra emoção (do latim emovere) relaciona-se claramente à ideia de movimento, ou seja, do que se move, do que põe em movimento. Para além do movimento do fluxo da energia psíquica ao qual ela possa se referir, também não se pode ignorar o papel do sistema músculo-esquelético nos movimentos do corpo humano. Em última instância, quem nos tira da frente de um cavalo desembestado são os músculos de nossas pernas, para correr ou saltar. E por isso a paralisia histérica afeta exatamente também esse mesmo sistema muscular, além dos sentidos.
Essa capacidade conectiva que a empatia representa faz com que Waal prefira, para compreendê-la, o termo alemão que transmite a ideia do “movimento de um indivíduo projetando-se no interior de outro” (WALL, 2010, p.98).
Ou seja, as vivências concretas, espaço-temporalmente definidas, que podemos ter por meio de nosso corpo, sobretudo de tudo o que o corpo faz mesmo que não tenhamos a menor consciência disso, é imprescindível para um bom agenciamento das emoções. Vale a máxima: no desespero, dance. Ou corra, ou nade, ou lute, ou simplesmente abrace, como fazem os macacos muriquis, que solucionam as tensões do grupo com um grande abraço coletivo. Interessante notar como um dos sintomas associados ao ataque de pânico é o de uma vontade incontrolável de sair correndo.
De volta ao encontro analítico, evidencia-se a importância de uma vida plenamente vivida para o desenvolvimento da empatia necessária à criação do vínculo analítico. Ou seja, o analista defendido em sua persona, que foge às experiências e desafios de sua própria vida, ou que vive predominantemente por meio do virtual – e aqui temos nosso desafio, em tempos de imersão digital – terá fatalmente suas capacidades empáticas reduzidas.
Estranho muitíssimo que psicoterapeutas junguianos defendam a conexão das almas, vivendo a maior parte dos seus dias sentados (BAITELLO, 2012) – e a raiz etimológica de sentar e sedar é a mesma, do indo-europeu seddere -, protegidos dos desafios que as vivências concretas espaço-temporais podem trazer. O corpo sempre foi o lugar do incontrolável, do que escapa aos controles do ego, do incontornável da mortalidade. Foucault (1987) nos mostrou isso maravilhosamente bem, ao falar da profunda relação entre disciplinamento do corpo, dominação e controle, mas parece que esquecemos essas lições mais básicas ao acolhermos festivamente a sociedade da imersão digital, tão ao agrado do capitalismo, como sabemos (ou deveríamos saber, bastaria para isso olhar para a história da tecnologia no século XX).
Para Jung, cuja grande parte dos pacientes viajavam horas de trem para encontrá-lo, que passava às vezes horas com um paciente, chegando inclusive a cozinhar com ele a refeição do dia, provavelmente soaria muito estranho esse tipo de “psicoterapia líquida”, asséptica, de não-envolvimento. O fetiche pela subjetividade que atravessou todo o século XX fez com que se perdesse de vista a importância da empatia. O medo de se misturar ao outro é ao final o reflexo de uma desconexão com o próprio centro. E não somos todos outros de nós mesmos?
Enfim, em busca de um encontro analítico no qual a empatia acontece, me pergunto: como acolher a alma do outro sem um setting perfumado por nossas próprias dores e amores?
Referências:
BAITELLO JR., N. O pensamento sentado. Vale do Rio dos Sinos: UNISINOS, 2012.
BATESON, G. Mind and nature. E. P. Dutton, 1979.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987.
Guggenbühl-Craig, A. O abuso do poder na psicoterapia. São Paulo: Paulus, 2004.
JUNG, C. G. . Ab-reação, análise dos sonhos, transferência. Petrópolis: Vozes, 2018.
Estudos experimentais. Petrópolis: Vozes, 1997.
Psicogênese das doenças mentais. Petrópolis: Vozes, 2011.
A energia psíquica. Petrópolis: Vozes, 1983.
SILVEIRA, N. da JUNG – Vida e obra. R. de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
WAAL, F. DE A era da empatia. São Paulo: Cia. das Letras, 2010.
WULF, C. e GEBAUER, G. Mimese na cultura. São Paulo: Annablume, 2004.