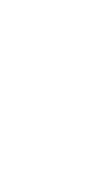O tema da morte tem ocupado os noticiários com uma frequência cada vez maior. Cresce o número de suicídios entre adolescentes, cresce o número de mortes por “engano” de adolescentes e adultos que participam de desafios da internet. Cresce o número de idosos que se suicidam em lugares em que os sistemas sociais não apresentam nenhuma estrutura de cuidado aos idosos sem recursos econômicos próprios. Mortes autoimpostas, suicídios, por assim dizer, muito embora em muitos casos as condições sociais ocupem-se de ser um agente homicida indireto.
A morte figura como o maior tabu cultural, o grande insuperável. O homem, que desenvolveu estratégias para superar intempéries climáticas e chegar a outros planetas não consegue se livrar de sua condição de mortalidade, ainda que se invista muito em pesquisas sobre longevidade, clonagem, formas diversas de permanência da vida. Edgar Morin, em seu belo livro O homem e a morte, oferece-nos uma bela reflexão sobre o horror que o homem sente frente a esse tema, uma rejeição que vem desde as culturas arcaicas e é basicamente universal. Além do mais, sentimos a morte como contagiosa, ainda que racionalmente não acreditemos nisso.
O fato é que ninguém quer ser parente da morte, nem estar por perto dela quando ela chega, nem falar muito nisso. Nega-se inclusive aos idosos o direito de falar dela quando estes sentem que ela se avizinha e precisariam demais poder falar sobre isso livremente. Você pode morrer de doença ou de velhice, mas não poderá falar sobre o que está te acontecendo com aqueles que te cercam. A morte é o grande tabu humano.
O que nos concerne, como psicoterapeutas, é desconstruir essa ideia de que se morre uma única vez e definitivamente. Falamos vulgarmente que morremos um pouco a cada dia, mas poucos de nós de fato refletem sobre o que isto abriga, e sobre o processo psicoterapêutico que é, por definição, um processo de morte e renascimento.
Em Os arquétipos e o inconsciente coletivo (par. 235), C. G. Jung refere-se especificamente ao tema do renascimento para tratar do processo de individuação, referindo-se a como os sonhos apontam esses renascimentos próprios dos movimentos da alma em busca de nos fazer caminharmos para o que de fato somos.
E a ideia de renascimento não pode ser compreendida sem que consideremos que o renascimento se segue sempre e necessariamente a uma morte. Daí compreendermos que se não somos capazes de morrer para algumas coisas e para certos padrões, para relacionamentos e papeis, para personas e funcionalidades específicas, não estamos no caminho da individuação.
Claro que a teoria é linda, mas a vivência na pele e na alma não é assim tão simples, como todos sabemos. No entanto, sem seguir morrendo pela vida não é possível construir uma vida que valha a pena, capaz de abrigar o sentido que buscamos.
Temos de aceitar que teremos de seguir pela vida morrendo o tempo todo para uma série de coisas: teremos de morrer para a criança dependente, para a ideia apaziguante de proteção, senão, do contrário, seguiremos à busca de um sistema de “proteção” que nos redima das angústias das decisões adultas – uma igreja, uma seita, um guru, uma ideologia pronta.
Teremos de morrer para a liberdade e rebeldia radicais da adolescência, porque se não o fizermos nos transformaremos em adultos irresponsáveis, incapazes de assumir compromissos e vínculos adultos de construção e apoio mútuos e nos tornaremos apenas competidores solos em busca do primeiro lugar no podium (sempre solitário).
Se tivermos filhos, teremos de morrer para a forma de funcionamento totalmente autocentrada, do contrário não conseguiremos incluir nossos filhos no nosso mundo, acolher a diferença de suas alteridades, ajudá-los a preparar o mundo no qual viverão.
Teremos em certo momento também de morrer para a vivência da juventude do corpo e acolhermos certo sobrepeso, as articulações mais frágeis, os movimentos menos livres e bruscos de antes, uma certa flacidez da pele, os cabelos brancos, e, sobretudo, aquela estranha percepção de que de fato não é mais tudo que nos interessa, e aceitarmos a crescente seletividade da maturidade. Teremos talvez alguns de nós de morrermos, numa velhice mais adiantada, para a autonomia física que antes tínhamos, aceitando sem tanta dor a humilhação de não podermos mais fazer coisas simples sozinhos, e, se tivermos sorte, trocarmos essa autonomia pela gratidão de ter alguém que nos auxilie por perto.
Há também as mortes dos finais de relacionamentos, das doenças sérias que superamos, mas quase não superamos… as mortes são tantas, e tantos os renascimentos.
Acolher essas mortes é o único caminho possível para a individuação. Mas o truque do Self é carregar de cada fase da vida uma fagulha do que realmente importou: a criança divina permanece em nós e pode ser acessada vez ou outra, a rebeldia da alma juvenil sempre pode se reapresentar quando precisamos resistir à indignidade do mundo, podemos alimentar parcerias adultas eternas por meio de nossos amigos, poderemos talvez seguir plantando os mundos futuros por meio de nossos netos. A sabedoria da velhice pode trabalhar para inventar prazeres outros que não exijam tanto do corpo, a gratidão – considerada por alguns neuropsicólogos como a atitude da felicidade – pode compensar um pouco a falta de autonomia nos dias finais.
Recusar-se a morrer para o que é preciso é um movimento natural do Ego, mas é também seu teste, o desafio do permanente trabalho de reestruturação a que ele é levado para fugir do adoecimento.
Sempre falamos na Psicologia Analítica que toda forma de unilateralidade é adoecedora, é patologizante. A unilateralidade na qual nos lança a ética da felicidade a qualquer custo, da juventude eterna, do sucesso, da afirmatividade, próprias da sociedade capitalista atual, não pode ter outro resultado senão a crescente dor que leva à morte definitiva, literalizando-se o que deveria ser vivido no território do simbólico.
Ao dizermos sim para as mortes que precisamos acolher todos os dias, ainda que doam, ainda que pesem, ainda que não tenhamos certeza de sermos capazes de seguir, acolhemos o outro lado desses valores, rompemos a unilateralidade, entramos na Vida de fato.
A análise está para isso: para nos ajudar a morrer para o que precisamos, para que venha o desconhecido daquilo que de fato somos.
O homem que contempla
(Rainer Maria Rilke)
Vejo que as tempestades vêm aí
pelas árvores que, à medida que os dias se tomam mornos,
batem nas minhas janelas assustadas
e ouço as distâncias dizerem coisas
que não sei suportar sem um amigo,
que não posso amar sem uma irmã.E a tempestade rodopia, e transforma tudo,
atravessa a floresta e o tempo
e tudo parece sem idade:
a paisagem, como um verso do saltério,
é pujança, ardor, eternidade.Que pequeno é aquilo contra que lutamos,
como é imenso, o que contra nós luta;
se nos deixássemos, como fazem as coisas,
assaltar assim pela grande tempestade, —
chegaríamos longe e seríamos anônimos.Triunfamos sobre o que é Pequeno
e o próprio êxito torna-nos pequenos.
Nem o Eterno nem o Extraordinário
serão derrotados por nós.
Este é o anjo que aparecia
aos lutadores do Antigo Testamento:
quando os nervos dos seus adversários
na luta ficavam tensos e como metal,
sentia-os ele debaixo dos seus dedos
como cordas tocando profundas melodias.Aquele que venceu este anjo
que tantas vezes renunciou à luta.
esse caminha erecto, justificado,
e sai grande daquela dura mão
que, como se o esculpisse, se estreitou à sua volta.
Os triunfos já não o tentam.
O seu crescimento é: ser o profundamente vencido
por algo cada vez maior.
Referências:
JUNG, C. G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2014.
MORIN, E. O homem e a morte. Lisboa: Publicações Europa-América, 1990.