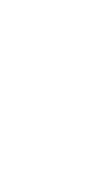O traço mais marcante dos nossos tempos talvez seja a maneira como nos rendemos todos ao trabalho e a um cotidiano repleto de tarefas tecno-burocráticas: pagamento de boletos, bancos, formulários médicos, bulas de remédio e manuais de instalação… estamos afogados num mar de chatice e tédio por todos os lados, e nosso corpo – em grande parte dos casos – anda amortecido pelo cansaço do trabalho extenuante e vazio, ou ainda pela sedação (BAITELLO JR.) das telas de comunicação que capturam nossos sentidos.
As pessoas passam grande parte do tempo isoladas, ligadas aos meios de comunicação eletrônicos – celulares, tablets, notebooks -, ou excessivamente próximas a pessoas que não conhecem, incomodadas, tais como nos ônibus e lotações superlotados das grandes cidades.
A questão é: nada nos convida a sentir, nada nos desperta por meio da beleza que poderia nos chegar por meio dos sentidos, por uma aisthesis que nos faça sentirmo-nos vivos e pulsantes.
Esse rebaixamento das vivências sensoriais, que nunca são convidadas para a festa da produtividade tecno-instrumental, demasiadas vezes tem sido confundido com depressão. Se pensarmos no sentido da palavra, depressão é uma queda, um rebaixamento de nível de alguma coisa; falamos de depressão do terreno, de depressão do nível do mar, etc.
Estaremos, de fato, todos deprimidos?
Sabemos do cuidado que é preciso para o estabelecimento de qualquer diagnóstico, e como os diagnósticos têm sido apressados e perigosos; quanto antes nomeamos um sintoma, antes temos a ilusão de que estamos no controle dele e perdemos o que de fato ele veio nos dizer: seu sentido, sua mensagem para nós. Como sabemos, a partir da ótica da Psicologia Junguiana, o sintoma é sempre uma parte de nós mesmos que está sendo negligenciada e que, por isso, sofre. Mas adoramos pensar em nossas dores como algo que não somos nós, que nos acomete de fora, que podemos extirpar com medicações e com o efeito tranquilizador dos diagnósticos.
O homem sempre usou a linguagem não apenas para atribuir significado ao mundo, mas também para gerar a ilusão de que tem controle sobre aquilo que nomeia. As artimanhas do Ego para sentir-se no controle da situação são vastas e poderosas, e a indústria farmacêutica se tornou milionária aproveitando nossa tendência de preferir maus diagnósticos a termos de lidar com a incerteza e procedermos à autoanálise.
Sabemos que depressão clínica existe sim e é coisa séria, mas muitas vezes temos de nos perguntar se o que se está considerando depressão não é depressão neste outro sentido, que proponho: não estamos de fato sofrendo de um rebaixamento dos sentidos? De uma desvitalização generalizada por conta de um estilo de vida próprio das grandes metrópoles, que nos reduz a funcionários de um sistema de produção (no sentido que propunha V. Flusser), para depois nos oferecer em troca apenas os maravilhosos privilégios do consumo?
Os ativistas ecológicos, ao sinalizarem a crise dos recursos naturais, já fazem há décadas o alerta para a impossibilidade de mantermos o estilo de vida consumidor que, via de regra, considera-se desejado, sinônimo de “sucesso”. As consequências desse consumo desenfreado têm se tornado cada vez mais claras, especialmente se lembrarmos dos recentes acontecimentos aqui no Brasil, dos crimes ambientais geradores de catástrofes ecológicas sem precedentes. No entanto, não nos perguntamos por nosso papel de consumidores-cúmplices e seguimos nas redes sociais apontando responsabilidades que, podem ser de alguns principalmente, mas são também um pouco de todos nós.
Afogados todos numa rotina de trabalho, consumo e estresse, refugiamo-nos para os meios de comunicação eletrônicos, em busca dos paraísos sintéticos, dos simulacros da vida, que a mídia nos oferece abundantemente, já que esse é seu produto principal, ainda que disfarçado de notícias, vídeos, memes, e toda a espécie de coisas.
O fato é que passamos praticamente todo nosso tempo livre conectados aos meios de comunicação eletrônicos, num processo que faz as metáforas do filme Matrix parecerem bem reais, principalmente uma das cenas iniciais em que os seres humanos aparecem em cápsulas conectadas à Matrix, outro nome para a rede. Recentemente, o termo “bolha” está sendo usado para se referir a esse ambiente de conexões dentro do qual nos fechamos (ou pensamos nos fechar, enquanto de fato somos presos).
Enquanto isso acontece, nossos sentidos estão literalmente deprimidos, já que os meios eletrônicos convocam a participação à distância, apenas por meio dos sentidos da visão e da audição. O tato, o paladar, o olfato, a propriocepção, os sentidos de proximidade, que entram em ação nas situações vivenciais concretas, presenciais, não são convidados para a cena da nossa consciência. Certamente estão ali, resistem, mas cada vez mais perdemos consciência da vivência desses sentidos. Comemos comida contaminada, a poluição do ar e o ar condicionado perturbam o olfato, desaprendemos a dançar (toda criança nasce sabendo), e desenvolvemos, em várias partes do mundo, uma crescente aversão ao toque, ao abraço e, consequentemente, a formas mais naturais e espontâneas de relacionamentos sexuais.
Recentemente, a notícia de que um novo tipo de profissional surgia, o abraçador – pago para ficar por quanto tempo o cliente quiser abraçando-o e afagando-o suavemente -, explicitou o grau de depressão dos sentidos que estamos vivendo, essa baixa das vivências corporais e dos sentidos de proximidade, tão importantes para a formação do Complexo de Ego estruturante, como aponta a teoria junguiana.
E o quadro vai se complexificando quando pensamos nas pessoas que se casam com bonecas sexuais, no estrondoso acesso de pornografia pela Internet, na crescente parcela de adolescentes em crise com seus corpos, devorados pelos imperativos da imagem corporal, numa sociedade que só se realiza por meio das imagens mediáticas. A lista de casos é longa e nos ronda nos consultórios, na família, entre amigos, nas mensagens do Watsap.
O corpo não está apenas mortificado, ele está amortecido por um longo trabalho histórico de sedação e abolição do tempo e do espaço da presença, trabalho que serve a interesses econômicos e político-ideológicos muito claros, como já apontou Max Weber (em Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo), ou ainda Dietmar Kamper (em O Trabalho como Vida). O processo é muito claro, mas ninguém dele se conscientiza. Saber não é o mesmo que ter consciência; a consciência demanda vivência, exatamente essa vivência da qual estamos abrindo mão cada vez mais.
Por isso, talvez precisemos alterar o foco de análise acerca dessa onda depressiva que assola a sociedade contemporânea e ao invés de corrermos para a próxima medicação ou para a inclusão de uma nova síndrome, que será devidamente medicada, claro, devamos nos perguntar, seguindo a perspectiva de James Hillman, sobre como anda a Anima Mundi, e sobre como anda nossa alma, se unida ou apartada de nosso corpo. Destruir a conexão corpo e alma foi uma das piores perversões herdadas das religiões monoteístas, geradora de uma situação na qual nos espelhamos em corpos sem alma – zumbis -, ou em almas sem corpos, fantasmagorias, nome mais adequado às imagens técnicas da mídia, muito diferentes das imagens artísticas, das imagens de culto, das imagens oníricas, potentes e mobilizadoras de energia psíquica, como afirmou C. G. Jung.
Será preciso entender que fantasmagorias midiáticas não têm o potencial das imagens que nos ativam a imaginação (CONTRERA), o trabalho da alma. São espectros que nos transformam aos poucos em espectros também, por meio do corpo cortado, ferido, bulímico, anoréxico, do corpo ferido e oprimido de todos os modos possíveis.
Se nossa depressão é um rebaixamento aisthésico, dos sentidos corporais, precisamos retomar essas vivências que, como escadas, nos tirarão desse buraco. Mover-se, desfrutar, sorver as horas sem pressa, demorar-se nos pequenos e essenciais prazeres, ter tempo para os estranhamentos, para a beleza das coisas e das pessoas, para a delicadeza dos gestos. Entregar-se, não a um pseudo-hedonismo que mais pode ser compreendido como uma simulação desesperada de prazer, uma dessubjetivação do corpo (como propõe D. Le Breton), mas aos riscos de estar vivo, e pulsar, e deixar que a vida nos aconteça, como dizia C. Lispector, em suas crônicas escritas para jornais, nos quais ela bordava cada palavra com o cuidado de quem pinta as asas de uma borboleta.
E para voltarmos à vida, precisamos encontrar nossa escada, nosso caminho de volta, que não será feito de súbitas viradas, nem necessariamente de grandes revelações – muito embora elas aconteçam mais vezes do que percebemos -, mas de milhares de pequenos e grandes gestos, com o corpo, com a alma, com a atenção e a fé de um animal que ensaia seus primeiros passos.
Referências:
BAITELLO, N. O pensamento sentado – sobre glúteos, cadeiras e imagens. Porto Alegre: Editora Sulina, 2012.
CONTRERA, M. S. “Imagens endógenas e imaginação simbólica”, in https://pt.scribd.com/document/361902274/CONTRERA-imagens-endogenas-e-imaginac-ao-simbolica-pdf
HILLMAN, J. Cidade e Alma. São Paulo: Studio Nobel, 1993.
JUNG, C. G. A energia psíquica. Petrópolis: Vozes, 1999.
KAMPER, D. O trabalho como vida. São Paulo: Annablume, 1997.
LE BRETON, A. Adeus ao corpo. Campinas: Papirus, 2003.LISPECTOR, C. A descoberta do mundo. São Paulo: Rocco, 1999.
- Os censos apontam para índices de 9 horas e 14 minutos por dia de uso de Internet entre catorze a sessenta e quatro anos entre os brasileiros (https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018). ↩︎